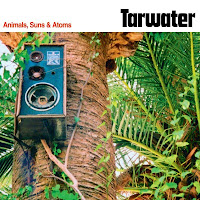12 de Maio 2000
Cinco Estrelas
33 anos de carreira, 20 álbuns de originais, ao longo dos quais a cantora e compositora canadiana tem escrito e reescrito a sua própria história. Um universo pessoal, tão musical como pictórico, sem paralelo na enciclopédia dos grandes singers-songwriters norte-americanos. Desta longa viagem confessional retirámos cinco momentos que são outros tantos álbuns de retratos. Uma escolha assumidamente subjectiva, não consensual, que exclui a fase mais recente da cantora, presente em álbuns como “Turbulent Indigo” ou “Taming the Tiger”, sem dúvida excepcionais. Apenas porque a intenção foi, acima de tudo, chamar a atenção para o barro e para as estrelas de um passado sem o qual nunca se teria iluminado o firmamento de clássicos que Joni Mitchell, no seu mais recente capítulo de uma história de amor interminável, entroniza em “Both Sides Now”.
“Blue” (1971)
“Sentia-me isolada, como uma ave presa na gaiola. Já não conseguia relacionar-me com as pessoas. Uma certa dose de sucesso pode acabar com uma pessoa, de várias maneiras.” Esta dose de sucesso tinha sido granjeada ao longo dos três álbuns precedentes e “Blue” é a resposta aos que queriam ver nela apenas a “hippie” que assinou o hino “Woodstock”. Com “Blue”, Joni Mitchell demarca-se do seu passado recente, abandonando os concertos ao vivo para se auto-analisar num retiro interior do qual resultou este álbum, onde é possível descortinar os claros-escuros de um poço emocional e criativo sem fundo. É ainda a autora que, a propósito deste seu trabalho, afirmou: “Neste período da minha vida não tinha quaisquer defesas, por isso dificilmente se encontrará nas letras ou na voz o mínimo sinal que não corresponda a uma sinceridade absoluta.”
“For the Roses” (1972)
Apesar da ausência voluntária dos palcos, “For the Roses” entra, num ápice, para as listas de vendas dos EUA, feito para o qual muito contribuiu o impacte do single “You turn me on, I’m a radio”, o primeiro “hit” da cantora que chegou a ter alguma divulgação
“The Hissing of Summer Lawns” (1975)
Há quem não morra de amores por este álbum, embora tivesse sido, uma vez mais, um sucesso de vendas. Ao contrário de todas as obras anteriores, autoconfessionais, “The Hissing of Summer Lawns” aponta o bisturi para o exterior, fazendo a dissecação de alguns dos vícios da sociedade americana. É, em simultâneo, em termos musicais, o álbum mais experimental da compositora, carregado de uma electrónica densa que atinge o esplendor em “The jungle line”. Manhattan transformada numa selva tropical, cimento e lianas, atravessada por jibóias e batuques rituais. E o jazz começava a despontar.
“Hejira” (1976)
O oposto do álbum anterior. Se “The Hissing of Summer lawns” era calor e humidade, “Hehjira” é branco e frio, com o desenho rigoroso de uma patinadora no gelo. Conta Joni Mitchell que a maioria das canções foi composta em viagens de automóvel. O título significa “uma viagem empreendida com a finalidade de escapar a um ambiente hostil ou indesejável”. Por vezes algo hermético, de um apuro formal levado à perfeição, “Hehjira” é um exercício de jazz ambiental, cuja arquitectura depende em grande parte do baixo de Jaco Pastorius, da bateria de John Guerin e do vibrafone de Victor Feldman. Neil Young, um velho amigo, toca harmónica como convidado. “Coyote” e “Amelia” são as canções que fogem um pouco a esta paisagem imaginada por uma esteta.
“Mingus” (1979)
Depois da participação, em 1978, no filme de Scorsese, “A Última Valsa”, Charles Mingus, um dos maiores contrabaixistas e compositores da história do jazz, já na fase terminal da sua doença, contactou-a, manifestando-lhe o desejo de trabalharem juntos numa adaptação musical de “Four Quartets”, de T. S. Eliot. Ele escreveria a música, ela editaria os textos. Joni Mitchell declinou a oferta, com a justificação de que seria mais fácil fazer uma síntese da Bíblia. Mingus insistiu, compondo seis composições para a voz da cantora. Acabaram por ser utilizadas apenas quatro, incluindo o “standard” “Goodbye pork pie hat”. Completam o alinhamento de “Mingus” dois originais da cantora e cinco designados rap, que não são mais do que curtíssimos excertos de monólogos de Mingus, um “Parabéns a você” e conversas e sons de circunstância captados durante o funeral do músico. Mingus morreu a 5 de Janeiro de 1979, mas “Mingus”, o álbum, ficou como uma tocante homenagem a esse músico visionário. Contribuíram para a gravação, além de Guerin e Pastorius, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Peter Erskine e Don Alias.