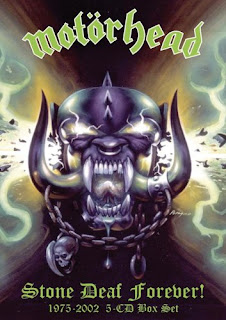JAZZ
CAPA
PÚBLICO
8 NOVEMBRO 2003
Mário Laginha e Bernardo Sassetti é a
estreia discográfica nascida da colaboração e das afinidades entre estes dois
pianistas. Um encontro de sensibilidades complementares onde a improvisação tem
um papel determinante. O jazz deles. Tocado com a naturalidade, mas também com
o espírito de viajante comum a ambos. A apresentação oficial está marcada para
o dia 13 deste mês na nova Fnac, em Gaia
Dois pianos a
contar de cima
Freddy Kruger contra Jason Voorhees. Mário Laginha
“contra” Bernardo Sassetti. Dois monstrous sagrados do jazz feito em Portugal
combatem lado a lado em “Mário Laginha e Bernardo Sassetti”, disco de piano,
dois pianos, apostados em fazer sobressair de duas sensibilidades musicais
necessariamente distintas uma terceira pessoa nascida de uma cumplicidade que
tem vindo a fortalecer-se ao longo de várias etapas em espetáculos ao vivo,
como o de Junho do ano passado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sassetti
e Laginha chegaram ao jazz por vias diferentes e nem sempre permanecem por lá.
Mas o gusto pela improvisação e pelo diálogo é notório. Laginha, cuja agenda com
a cantora Maria João, seja na gravação de álbuns como “Danças”, “Chorinho
Feliz”, “Lobos, Raposas e Coiotes”, “Mumadji”, “Cor” e “Undercovers”, seja em
concertos, tem deixado pouco espaço para outras aventuras, já dialogara com outro
pianista, Pedro Burmester, em “Duetos” (1994). Sassetti, por seu lado, gravou
“Mundos” e um “Nocturno” que é um dos grandes discos de jazz nacional lançados
o ano passado. Recentemente lavrou a sua assinatura nos arranjos orquestrais
para o concerto de celebração dos 40 anos de carreira de Carlos do Carmo.
Viajantes por natureza, dos lugares e dos sons, combinam semelhanças e
diferenças. Laginha é o extrovertido capaz de juntar no espírito Bach, Keith Jarrett
e os ritmos africanos. Sassetti, o introvertido dobrado sobre os silêncios,
enredado nas sombras e nas luzes que Bill Evans legou ao jazz, mas também o
impressionista dos pontos e manchas que adquirem sentido à distância mais
íntima. No disco, porém, trocam por vezes de papel e nem sempre o que parece é.
Da alma até à ponta dos dedos e destes até ao marfim das teclas vai um instante
de eternidade. Os próprios explicam como se percorrem os caminhos.
“Mário Laginha e Bernardo Sassetti”
é o prolongamento lógico dos vossos espetáculos ao vivo?
Bernardo
Sassetti — Tem menos a ver com os concertos do que com o repertório, apesar de
haver temas antigos que aparecem em novas versões, como “A menina e o piano” ou
“Señor Cascara”.
Mário
Laginha — No ano passado começámos a tocar juntos mais regularmente e a sentir
necessidade de arranjar mais repertório. O que tínhamos dava um bocado à
conta... para um concerto relativamente curto.
Grande parte dos temas são
improvisações, ou “Imprevistos”, como lhes chamaram…
M. L.
— Foram improvisados no estúdio. E temas como “Diabolique”, “Fisicamente” e “A
segunda gaveta a contar de cima” são temas novos, mais longos.
Tocam sempre os dois em simultâneo,
ou também há solos?
B. S.
— Há momentos a solo...
M. L.
— ...Tudo sem truques nenhuns.
Aos primeiros “takes” ou foram
necessárias repetições?
B. S.
— Foi uma sessão de estúdio extraordinária. Em geral saiu tudo ao primeiro “take”,
fi cou mais fresco. Às vezes nota-se, quando se repete de mais...
Algum motivo especial para o
título se ficar pelos vossos nomes?
B. S.
— Foi propositado. Mas pensámos muito nisso. Como disco de apresentação
resolvemos não recorrer a um título.
M. L.
— Embora a ideia não nos fosse desagradável. Mas não queríamos pegar num dos
temas e usá-lo como título. Quando isto acontece, as pessoas pensam logo: “Olha
este é ‘O tema’!” Para nós conta apenas o todo.
Este é um disco de jazz. Mas a
conceção que cada um de vocês tem do jazz é diferente. Tiveram que proceder a
adaptações?
B. S.
— Eu comecei na música clássica, mas a partir do momento em que me apaixonei
pelo jazz foi de rompante. Deixei totalmente de parte a clássica. Mas essa é uma
questão pertinente…
M. L.
— Não houve esforço nenhum. Se tivesse havido, perdia um bocado a graça. Nenhum
de nós está a tentar aproximar-se linguisticamente do outro. Agora... ambos
temos intuição. Quando se está a tocar, é preciso saber ouvir o outro.
B. S.
— Ouvir o outro com ouvidos diferentes. Não digo que noutras formações não tenhamos
a mesma atenção, mas aqui estamos a falar de dois pianos.
M. L.
— O que faz com que não haja nenhum tema para encher. Há ótimos discos, por
músicos fabulosos, que improvisam muito bem, mas...
O que é que vos separa e vos
aproxima musicalmente?
M. L.
— Ambos gostamos imenso de improvisar, ambos gostamos imenso de escrever, ambos
gostamos imenso de arranjar.
B. S.
— O Mário tem uma característica extraordinária que encontro em muito poucos pianistas
— uma capacidade polifónica e de criar melodias e contrapontos com as duas mãos
em tempo real. Aprendo sempre com ele. Eu tenho uma conceção diferente.
M. L.
— Ele, às vezes, é desconcertante, porque tem um lado que identifico como jazz,
de alguém que conhece ao mais alto nível a história do jazz, mas que depois
abriu um caminho que falta a muitos pianistas, que é o lirismo, a par da
capacidade melódica.
Um é extrovertido e o outro
introspetivo?
B. S.
— É muito possível. Embora uma das minhas composições neste disco, o “Señor Cáscaro”
seja a atirar para a frente. Mas é apenas um caso. O Mário é daqueles pianistas
que toca com garra. Eu tenho talvez muita consciência, um cuidado extremo com o
toque, o “touch”. Há algumas gravações minhas, antigas, em que noto alguma
estridência e isso teve muita importância, fez-me mudar, neste momento estou mais
lírico, presto atenção ao som de cada coisa que faço.
M. L.
— Olho para a lista de temas deste álbum e noto uma coisa engraçada. Há um lado
de mim menos representado. Sempre fiz temas, não digo que para fazer chorar as
pedras da calçada, mas muito líricos, mas aqui, realmente, não.
Para o Mário, este álbum representou
também a oportunidade de mostrar outro lado de uma música que nos últimos
tempos tem andado quase sempre ao lado da voz de Maria João?
M. L.
— De facto, durante uns anos, estive de tal forma enredado nesse trabalho que, embora
não tenha morto outros projetos, não lhes dava continuidade. De há uns tempos
para cá decidi que isso tinha que acabar. Há outras coisas que não quero deixar
de fazer.
No caso do Bernardo, aconteceu
o oposto. O trabalho que fez recentemente para o Carlos do Carmo é uma exceção.
B. S.
— Sim. Foi um desafio que aceitei e que me deu imenso gozo — sobretudo por ele
me ter dado carta branca, de me dizer: “Eh pá, faz o que quiseres!” Claro que
não ia começar a fazer música contemporânea, estamos a falar de fado e de um
espetáculo no Coliseu, mas, harmonicamente, muitas coisas foram mudadas. Depois
esse outro gozo de poder fazer “sacanices”, no bom sentido, pôr umas coisas
marotas lá pelo meio... O Hermeto Pascoal disse uma vez uma coisa muito engraçada,
num concerto em Guimarães. Começou a tocar o “Coimbra” e, às tantas, vira-se para
o público e diz: “Esta melodia é tão interessante, tão bonita, mas vocês aqui
em Portugal... Harmonicamente isto é muito fraquinho, vocês deviam puxar a
música para a frente.” E começa a fazer umas harmonias extraordinárias.
Da junção das vossas músicas nasce
uma Terceira entidade?
M. L.
— Sim. Existem poucos discos apenas com dois pianos, só me consigo lembrar do
Herbie Hancock com o Chick Corea. O que fizemos tem uma identidade própria, é o
primeiro bom sinal de que uma música pode ter, mesmo sem ser feita para parecer
novidade. A originalidade é uma coisa muito relativa e subjetiva. As pessoas
têm as suas influências, a tonalidade, a partir do “free”, também já está mais
do que explorada. Nós tocámos e gravámos despreocupadamente, mas essa
identidade existe.
Essa despreocupação implicou ausência
de tensão? Um menor esforço? Para dois pianistas que encaixam tão naturalmente,
a facilidade pode não ser boa conselheira.
M. L.
— Essa naturalidade tem mais a ver com a forma como encarámos o projeto. Há temas
que deram um trabalho imenso a montar, difíceis tecnicamente, como “Fuga para dois
pianos”, “Diabolique”, “A segunda gaveta a contar de cima” e “Señor Cáscara”.
B. S.
— Quando estamos a ler uma partitura, o problema pode estar em que, ao
princípio, cada um de nós se preocupa mais com a sua própria parte e deixa um
bocadinho de ouvir a outra. Estamos preocupados em tocar aquilo bem, metidos um
bocadinho para dentro. A partir do momento, porém, em que começamos a perceber
o que são as duas vozes, quais as dinâmicas, o que cada um tem ou não que
fazer, então aí é que começa o trabalho a sério. De resto, é trabalho de casa,
a dois, um trabalho que demora muito tempo. “O sonho dos outros”, por exemplo,
é bastante mais simples de montar. Ou a “Despedida”. Mas na “Segunda gaveta...”
tivemos que perceber muito bem o que se estava ali a passar!
M. L.
— Até ficar como está no disco parece não ter havido conflito. Ambos detestamos
sentir que o ritmo se perdeu, um ritmo que, por exemplo, em África, acontece
naturalmente, mas que no Ocidente, uma pessoa está a tocar, e até está a soar
bem e, de repente, o “groove” ardeu. Odeio isso. Quando o “groove”, o “swing”,
se vai embora. Há neste disco imensos temas que swingam, mas até swingarem, até
se chegar lá, não foi uma coisa imediata, encaixar o sentido e as acentuações e
depois fazer isso já intuitivamente.
No álbum alternam composições mais
longas com miniaturas de pouco mais de um minuto. Interlúdios?
B. S.
— O único efetivamente pensado como tal foi “Despedida”. No meio de tanto improviso,
decidimos fazer uma versão só com o tema.
M. L.
— Normalmente, durante as gravações, chegávamos ao fim do dia e fazíamos um
improviso. Acabou por ser esse o espírito.
“Mário Laginha e Bernardo Sassetti”
não é um disco difícil de se ouvir. Nunca pensaram em arriscar outro tipo de
música, menos imediatamente apelativa ou
então qualquer tipo de “tara” musical, politicamente incorreta, do tipo “easy
listening”?
B. S.
— Neste primeiro disco quisemos pegar em tudo o que tínhamos feito até agora.
Não há grande diferença, em termos de espontaneidade, não há grandes diferenças
em relação ao concerto.
M. L.
— Tenho horror ao “easy listening”, embora até goste de alguma “má música” (risos)
e haja bons tipos a fazer isso, mas mais facilmente aprecio uma canção pop. O “easy
listening” é uma música profundamente estúpida, em que se utilizam
conhecimentos razoáveis, de tipos que até sabem tocar bem, para fazer algo
completamente vazio. Irrita-me. Desejo inconfessável seria, como já pensei
fazer, um disco comigo a tocar guitarra e a cantar, com a minha voz absolutamente
horrível (risos). Não tenho voz nenhuma, mas afino! Outra coisa, não tão
inconfessável, passa pela gravação de uma música mais difícil.
B. S.
— Eu tenho algumas coisas na manga, sobretudo bandas sonoras. É raro poder-se editar
uma banda sonora em Portugal. É difícil as Pessoas imaginarem quão complicado isso
é, em termos de produção, de entrega, de financiamento. Um disco que gostaria
de fazer, embora fosse necessária muita coragem para o editar, era um de coisas
trabalhadas dentro do piano, na caixa harmónica, nas cordas, na harpa. E
sobretudo um disco com muito, muito silêncio. Uma coisa é certa, na rádio não
passaria (risos).
M. L.
— Entre o primeiro e o segundo acorde punham publicidade (risos).
Tanto “Nocturno” como “Undercovers”,
os vossos discos anteriores, venderam bem. Existe finalmente um mercado para
discos de jazz feitos em Portugal? Ou são exceções?
M. L.
— Acho que haverá sempre mercado para os discos de jazz, mesmo numa sociedade
com tendência para a estupidificação, como a nossa. Há sempre camadas que reagem.
Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. De uma maneira geral, o problema
está em que as pessoas não são estimuladas a ouvir coisas que desconhecem. Mas,
quando se aposta mais, às vezes há surpresas e descobre-se que afinal até há
pessoas que compram. É claro que não compram às centenas de milhares, mas
compram uns milhares. Apesar de sermos um país pequeno, quanto mais discos se
fizerem, melhor.
Mas então, por que razão gravaram
este álbum em edição de autor e não através de uma editora? De onde veio o
dinheiro para a gravação?
M. L.
— Não é um disco de autor por não ter havido editoras interessadas. Foi uma
opção. Estou mais ligado à Universal e o Bernardo à Trem Azul...
B. S.
— Mas é importante não termos, como não temos, exclusividade.
M. L.
— No meu caso, a ligação tem mais a ver com os discos com a Maria João. Se o Bernardo
viesse para a Universal, a Trem Azul era capaz de ficar um bocado melindrada. O
oposto teria o mesmo efeito na Universal. Acabámos por pensar que a melhor
maneira de ninguém ficar ofendido seria fazer um disco de autor. E até tivemos
sorte, porque a Fnac quis exclusividade. Mas nem se trata de um disco caro...
O ambiente de estúdio foi determinante
nas gravações?
B. S.
— Gravámos no estúdio do Mário Barreiros, em Canelas, no Porto, um estúdio cinco
estrelas, mesmo a nível mundial.
M. L.
— Tudo em madeira, grande, com respiração...
B. S.
— O Mário já tinha gravado lá, o “Undercovers”, cujo som considero
extraordinário, e o Mário Barreiros é um técnico sublime, além de um grande músico.
Tem uma inteligência e uma rapidez de fazer as coisas estonteantes.
Têm expetativas elevadas em
relação à aceitação deste álbum?
M. L.
— Gostaria que as pessoas ouvissem e gostassem, que acontecesse cumplicidade, comunhão.
Adoro tocar ao vivo, não há nada melhor, sentir, quando entro no palco, que as pessoas
já ouviram o disco e querem mesmo estar ali no concerto.
“Mário Laginha e Bernardo Sassetti”
é um disco de jazz “mainstream”? O termo incomoda-os?
B. S.
— Não acho que seja... M. L. — O
“mainstream” nãotem a ver com ser bastante tonal ou não, mas com o tipo de
linguagem. E, nesse aspecto, não é. Mas é uma música comunicativa, que não se
fecha sobre si mesma.
Como é que se evolui como
músico de jazz em Portugal?
B. S.
— É muito importante os músicos saírem de cá. Ir apanhar ar lá fora. Vivi
muitos anos em Londres, também estive algum tempo em Nova Iorque, e é realmente
extraordinário. Realizam-se sessões descontraídas, à tarde, para as pessoas
tocarem, só pelo gozo. Aqui é mais complicado... Chega-se a um ponto em que
deixa de haver entusiasmo em relação ao meio. Os músicos novos que querem mesmo
fazer esta música têm que sair daqui. Isto é muito pequeno. Uma província.
Lisboa é uma cidade grande, mas, se formos a ver, tem características que me fazem
pensar em fachada. Há muita fachada e pouco conteúdo. Isto empobrece o
espírito. Existe a mania de dizer “nós temos”, “nós fizemos” o maior edifício,
a maior sede de não sei quê, o maior oceanário, “porque nós os portugueses
também podemos e conseguimos!”... É extremamente redutor.
M. L.
— São os mesmos que depois se vergam ao que vem de fora!
Ambos gostam de viajar. Que
viagens, musicais e geográficas, mais os marcaram?
B. S.
— A música que me fez vibrar mais até hoje foi a do Brasil. Em Niterói, tanto
os sons de batucada no meio da rua, durante uma manifestação popular, como, às
duas da manhã, um grupo de velhinhos a tocarem forró, vestidos como se tivessem
acabado de sair da cama. Quatro horas a tocar, das 2h às 6h. Sem parar! Há
outra música que me fascina em particular: o flamenco. Tenho estado a tocar e a
aprender com o grupo Cruce de Caminos, como o Perico Sambeat e o Gerardo Nunez.
Atualmente tenho andado a ouvir música fúnebre para cordas, de Lutoslawski, pelo
Kronos Quartet.
M. L.
— Também o Brasil. Depois, África, pela qual sinto um fascínio enorme. Às vezes
procuro imitar ritmos que não são feitos em piano, mas em guitarra, numa kora
ou num balafon. Isso dá-me ideias — por exemplo, há um tema no “Cor”, “Rafael
ou a cor de Moçambique”, cujo balanço foi conseguido a partir da imitação de
uns balafons, até transformer o ritmo numa coisa pianística.
Existe um jazz português, da
mesma maneira que existe um jazz inglês, um jazz francês ou um jazz italiano?
B. S.
— Sim! Uma sonoridade específica. No Mário, por exemplo. Oiça-se várias das “Danças”.
Também em temas do João Paulo, do Carlos Bica e do Carlos Barretto.
M. L.
— Mas não são elementos óbvios. O José Duarte dava como exemplo – do qual discordo
completamente – o Chano Dominguez, ao pegar num “standard” qualquer e transformá-lo
numa rumba. Eu isso acho que não. Agora misturar flamenco com outras coisas,
como fazem os Cruce de Caminos, acho bem. Pegar em temas populares portugueses
e adaptá-los... Se isso é jazz português, prefiro estar a milhas!
Obcecados pelo belo
MÁRIO LAGINHA E
BERNARDO SASSETTI
Mário Laginha e Bernardo Sassetti
Ed. de autor,
distri. Fnac
8 | 10
A música nasce em crescendo, escorre como água, em
acordes que aos poucos se vão organizando, como a lição de piano da criança
deslumbrada que descobre a origem dos sons, em “A menina e o piano”, ponto de partida
do primeiro álbum de dois pianistas que procuram na música do outro o complement
e uma resposta para as suas interrogações musicais. Escutam-se evidências.
Nesta nova versão do tema compost originalmente para “Chorinho Feliz”, à
semelhança dos outros compostos por Laginha (“Fuga para dois pianos” e
“Despedida”, ambos do álbum “Hoje”, de 1994, e o inédito “Fisicamente”), o
ritmo impõe-se como fio condutor, o “touch” é marcado, o “swing” quase
“ragtime” na “Fuga”, gismontiano na “Despedida”, e “Fisicamente” um poderoso
diálogo de “riffs”, sugestões de chorinho e harmonias em cascata. Já “A segunda
gaveta a contar de cima”, escrita em primeiro lugar para a Orquestra de Jazz de
Matosinhos, jarrettiana na essência, será o mais natural ponto de confluência entre
os dois pianistas portugueses. Jogo quase telepático, de notas vivas e vívidas,
“clusters” e expressividade a roçar a euforia. A métrica pode soar insistente, quase
repetitiva, mas é também daí que as surpresas e as soluções brotam, a justifi
car a explicação dada pelos seus intérpretes: “Temos ambos um fascínio por um
lado obsessivo, em usar uma repetição lógica e explorá-la até à exaustão.” À
pergunta “Onde é que isto nos vai levar”, respondem com a disciplina
antidogmática dos espíritos nómadas: “Entramos numa tonalidade e às tantas
começa a fundir-se numa linguagem mais impressionista e menos tonal.” Em
Sassetti, pelo contrário, a intrincada rede de luzes, por vezes ofuscantes, do
novo arranjo para “Señor Cáscara” (do álbum “Mundos”) é a excepção às
filigranas impressionistas de “O sonho dos outros” (de “Nocturnos”), janela entreaberta
para a matemática secreta de Satie, “Diabolique” (surpreendente pela violência
dos contrastes) e um “Renascer” com a mesma tranquilidade de Brian Eno. A
escrita de Billy Strayhorn em “take the A train” introduz o universo
ellingtoniano na teia harmónica da dupla e acaba por ser nos três “Imprevistos”
que os dois completam a fusão das respetivas linguagens pianísticas, pela
improvisação. É também aqui que, ao esbaterem-se as diferenças, a música deixa
diluir alguma da sua força “narrativa” para se revelar como geometria de um
jardim zen, aspeto em que o “Imprevisto nº2”, minimal como um mantra de Terry
Riley, se mostra exemplar.